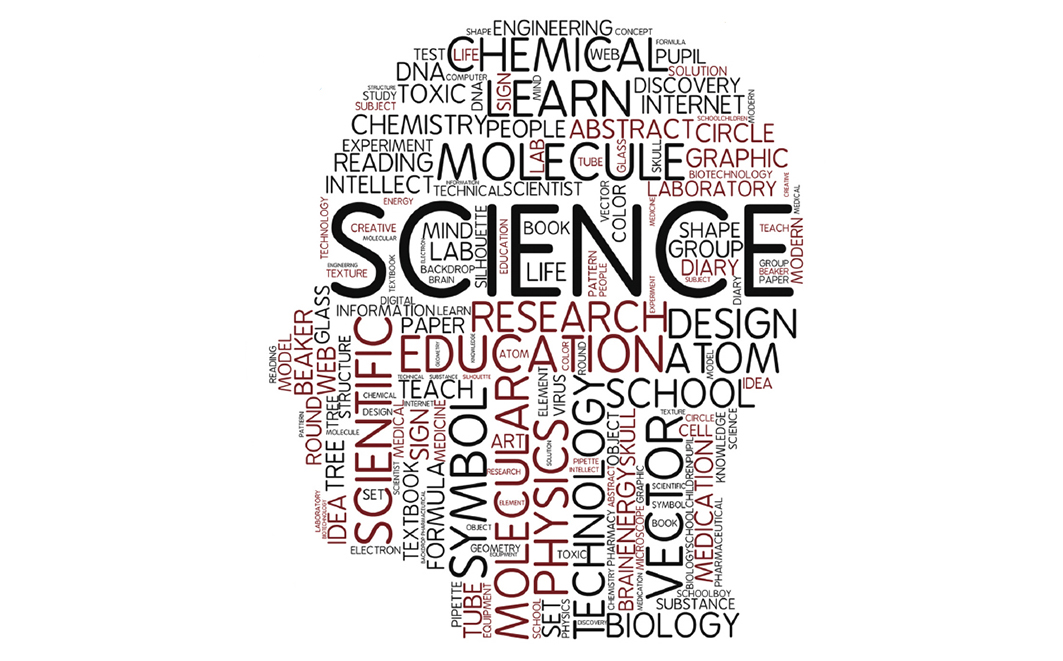
Introdução
Senciente é um adjetivo derivado do latim sentiente que descreve aquele que sente, ou tem sensações.
É uma definição ainda pouco encontrada nos dicionários, podendo ser descrita informalmente como sendo a capacidade de sofrer negativa ou positivamente – sofrer ou sentir prazer – ou de ficar feliz. Usualmente vem sendo aplicado na forma do substantivo “senciência”, no sentido daqueles que possuem a capacidade de ter sentimentos associados à consciência. Um ser senciente não é aquele que tem a mera capacidade de reagir a um estímulo, mas aquele que tem a capacidade de perceber o estímulo e reagir a ele de forma consciente. A ação consciente garante experiências e sentimentos intrínsecos a esse ser que o afetarão em decisões futuras 1.
Durante muito tempo o ceticismo científico se fechou, exigindo evidências e dados que comprovassem a existência de sentimento nos animais. A dificuldade de provar a existência de reações intrínsecas ao cérebro de um indivíduo, inacessíveis a outro, facilitou a afirmação de que não se poderia ter certeza que os animais tivessem sentimentos. Porém, a mesma justificativa se aplicaria aos seres humanos, dada a não existência de ferramentas científicas capazes de transcender a barreira da esfera privada de um indivíduo. A relação do ser humano com os outros seres vivos terrestres intriga a humanidade desde seus primórdios. Compreender o porquê das diferenças e entender as relações inter-espécies vem sendo um tema de discussões seculares. Com o desenvolvimento da ciência, diversas dúvidas foram esclarecidas e hoje chegamos a outro patamar de conhecimento.
O presente trabalho buscou fazer uma revisão que pudesse transmitir o caminho percorrido pela questão da senciência dos animais até o momento atual, abordando os principais filósofos e cientistas que durante séculos buscaram explicar o que é e como ocorre a consciência.
A consciência na filosofia
As questões sobre a senciência animal têm suas raízes na busca pelo entendimento da própria consciência humana. Aristóteles, ainda no século III a.C., escreveu um tratado de catorze livros sobre filosofia geral intitulado Metafísica, no qual propunha a disciplina da investigação das causas de todas as coisas. Dentro das diversas questões abordadas pela metafísica temos a questão que deu início à discussão sobre consciência: existe diferença entre mente e matéria? 2.
Inúmeras propostas surgiram ao longo dos séculos, em sua maioria de caráter monista ou dualista. O monismo sustenta que existe apenas uma coisa, e que a matéria e a mente são aspectos dessa coisa. Já o dualismo defende uma distinção rígida entre mente e matéria.
Aristóteles acreditava que todo ser dotado de vida se distingue do mundo inorgânico por possuir alma, modelo escolástico aprimorado a partir da ideia de Platão, seu mestre por muitos anos. Em um de seus estudos de psicologia, ao qual fez referência no tratado Da alma, Aristóteles afirma que os homens não são os únicos seres que possuem alma, ou psique 3 Nesse momento compreende-se por alma o princípio da vida, o porquê de cada indivíduo desenvolver uma atividade própria. Para Aristóteles, uma planta possui uma alma vegetativa, que tem por único objetivo a nutrição e a reprodução. Um animal possui uma alma sensitiva, que permite a sensibilidade e a locomoção. Já o homem, diferente dos demais seres vivos, possui uma alma racional, sendo dotado do pensamento. Acreditando que cada indivíduo é dotado de apenas uma alma, Aristóteles descreve a alma sensitiva como superior às demais, por somar suas características 3,4.
Já no século XVII, René Descartes concretizou o dualismo, separando mente e matéria, com sua filosofia mecanicista, ele acreditava que o animal só era dotado de corpo, e o homem, de uma porção pensante, a mente. Descartes chega a dizer em sua carta de 1649 a Henry More: “Os animais nunca se desenvolveram a ponto de ser detectado neles algum sinal de pensamento” 5.
Na busca por respostas a questões embrionárias, a ciência adotou de forma conveniente o pensamento mecanicista de Descartes para justificar as inúmeras vivissecções realizadas, visando o conhecimento da anatomia e da fisiologia com enfoque antropocêntrico 6.
Embora a ciência tenha suas raízes na observação e experimentação do mundo natural, os estudos do comportamento e da consciência animal permaneceram por muito tempo como uma evidência anedótica, mesmo depois da revolução científica.
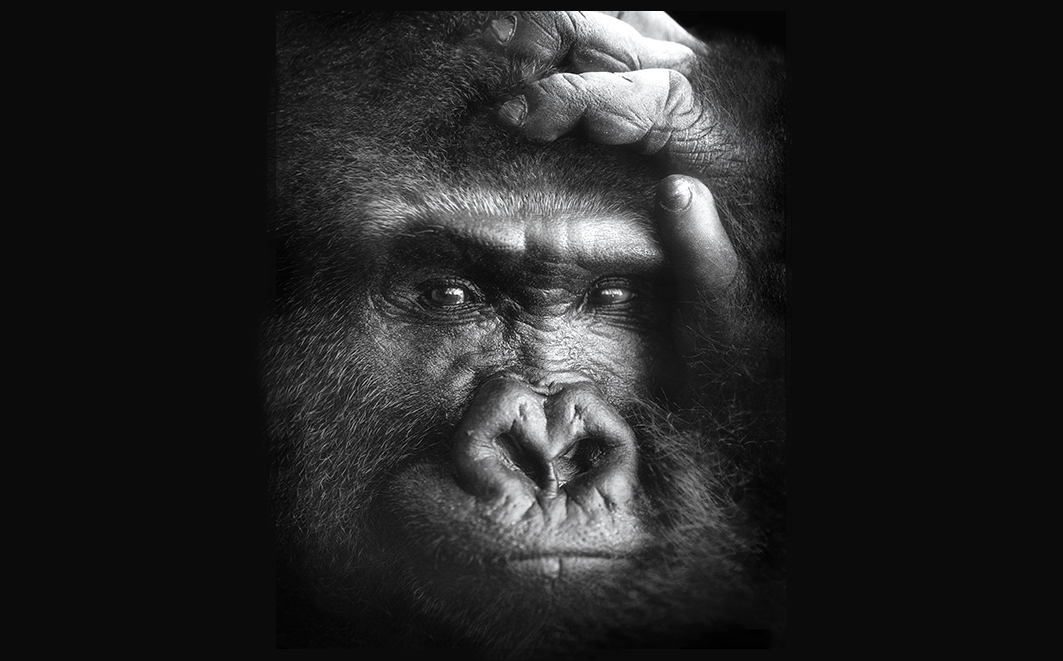
A abordagem científica
Em 1789, Jeremy Bentham, filósofo e político inglês, afirma em seu livro Introdução aos princípios da moral e legislação: “Chegará o dia em que o restante da criação animal possa readquirir aqueles direitos que jamais poderiam ter sido retirados deles a não ser pelas mãos da tirania. Os franceses já descobriram que a pele escura não é razão para que um ser humano seja abandonado sem alívio aos caprichos de um torturador. Um dia poderá ser reconhecido que o número de pernas, as vilosidades da pele ou o término da coluna vertebral são razões igualmente insuficientes para se abandonar um ser senciente ao mesmo destino. Que fator então deveria traçar a linha insuperável? A capacidade de raciocinar, ou talvez a capacidade de se comunicar? Mas um cavalo ou um cão adulto é um ser muito mais racional e comunicativo que um bebê de um dia, uma semana ou um mês de vida. Mas suponhamos que fosse diferente, e daí? A questão não é: ‘Os animais podem raciocinar?’ nem ‘Os animais podem falar?’, mas sim ‘Podem os animais sofrer?” 1. Bentham e suas questões promoveram uma retomada da busca pela compreensão da consciência e do comportamento animal pela ciência.
No final do século XVIII surgiram alguns estudiosos do comportamento animal. Frédéric Cuvier pesquisou sobre o desenvolvimento do comportamento sexual e social de mamíferos em cativeiro, e Alfred Russel Wallace buscou estabelecer uma abordagem experimental para o comportamento animal. Mesmo com o surgimento de novas perspectivas, pouco se tinha a dizer sobre a consciência. Douglas Spalding realizou experiências sobre o comportamento alimentar instintivo em pintos e contribuiu para uma nova discussão do ponto de vista instinto versus razão 6.
Em 1859, Charles Darwin escreve sua obra-prima, A origem das espécies. Além de dissertar sobre a teoria da evolução das espécies, Darwin faz uma abordagem da oposição entre instinto e razão, onde iguala em capacidade o homem e o animal. “… O homem e os animais superiores têm todos os mesmos sentidos, as mesmas intuições e as mesmas sensações, têm paixões, afetos e emoções similares, até mesmo os mais complexos como o ciúme, a suspeita, a emulação, a gratidão e a magnanimidade: eles enganam e se vingam; têm às vezes o senso do ridículo e até um senso de humor; sentem espanto e curiosidade; possuem as mesmas faculdades de imitação, atenção, deliberação, escolha, memória, imaginação, associação de ideias e raciocínio, embora em graus muito diferentes. Nessa passagem procurou ainda explicar a origem e a “descida do homem” ao comportamento animal, com o objetivo de demonstrar a continuidade mental entre as espécies sustentada por sua teoria evolucionista. “É um fato significativo que quanto mais os hábitos de qualquer animal em particular são estudados por um naturalista, mais ele os atribui à razão, e menos ao instinto,” 6,7.
Thomas Henry Huxley foi um biólogo britânico e o principal defensor dos princípios evolucionistas de Darwin, discordando diretamente de Richard Owen, que acreditava que o ser humano se diferenciava claramente dos demais animais devido à estrutura anatômica do seu cérebro. Huxley não aceitava essa afirmação, defendendo em sua obra de 1863 Evidências do lugar do homem na natureza a continuidade mental entre seres humanos e animais 6. Além disso, Huxley defendeu a teoria epifenomenalista de que os fenômenos mentais são causados por processos físicos no cérebro e não que os processos físicos do cérebro tenham causas mentais 8.
Em 1890, Willian James surge com a teoria das diferentes intensidades de experiência consciente em todo o reino animal. Sua ideia foi disseminada pelo líder e psicólogo britânico Conwy Lloyd Morgan, que passou a ser reconhecido pelos diversos estudos sobre a psicologia animal. Em 1894, Morgan escreve o livro Uma introdução à psicologia comparada, no qual descreve o que ficou conhecido como “Cânon de Morgan”. Para Morgan, o estudo da psicologia animal deveria se basear na interpretação do comportamento; ele afirmava que “uma ação não deve ser interpretada como um resultado do exercício de uma faculdade psíquica superior se isso pode ser interpretado como o resultado do exercício de uma atividade psíquica inferior na escala psicológica” 6.
Inspirados pela abordagem de Morgan, surge no início do século XX o behaviorismo, também denominado comportamentalismo, que reuniu teorias psicológicas que determinam o comportamento como o método mais adequado para o estudo da psicologia. Ivan Petrovich Pavlov foi o primeiro a propor o modelo de condicionamento do comportamento que ficou conhecido como reflexo condicionado, tornando-se uma pessoa conceituada em razão de suas experiências de condicionamento de cães. Sua obra inspirou a publicação, em 1913, do artigo Psychology as the Behaviorist views it, de John B. Watson, que utilizou pela primeira vez o termo 9.
Esse conceito se difundiu pela ciência americana, desencadeando diversas pesquisas, como as experiências de Thorndike em animais que aprendem por tentativa e erro para escapar das “caixas de quebra-cabeça”, “lei do efeito” que se refere à “satisfação ou desconforto” do animal. É nesse contexto que surge o antimentalismo radical de John B. Watson e B. F. Skinner, que rejeitava qualquer tentativa de explicar o comportamento animal em termos de estados mentais não observáveis 6.
Ao restringir a pesquisa da psicologia animal ao comportamento, o estado mental intrínseco foi eliminado. A ideia de mente só voltou a ser expressa explicitamente em meados da década de 1970 por Donald Griffin, conhecido pela descoberta do mecanismo de sonar em morcegos 10. Griffin utilizou o termo “etologia cognitiva” para denominar um projeto de pesquisa baseado em observações naturalistas de comportamento animal, na tentativa de compreender as mentes dos animais no contexto da evolução. Com isso, destacou a flexibilidade comportamental e a versatilidade como fontes de evidência de consciência, que esse projeto definiu como o estado subjetivo de sentimento ou de pensamento sobre os objetos e eventos 11. Griffin foi muito criticado em razão da subjetividade de sua técnica, porém desempenhou um papel fundamental na retomada dos estudos sobre a consciência 6,12.
Nos últimos vinte anos houve um crescimento do interesse em estudar a ciência da consciência. Neurocientistas como Antônio Damásio, que demonstrou que as emoções e sua base biológica desempenham um papel crítico na cognição 13,14, e Gerald Edelman, que criou uma forma de analisar a consciência por meio de uma perspectiva científica, contribuíram para o início de uma nova fase de estudos menos subjetivos, gerando embasamento científico para novas discussões. Desde então, as questões enfrentadas pelos pesquisadores passaram a ser o como e o porquê a consciência surge a partir da atividade neural 15,16.
Eugene Linden sugeriu que há muitos exemplos de comportamento e inteligência animal que ultrapassam as suposições humanas do limite da consciência animal e várias espécies animais apresentam comportamentos que só podem ser atribuídos à emoção e a um nível de consciência 17.
Vários testes foram desenvolvidos com a expectativa de compreender o estado de consciência animal. Um dos testes mais conhecidos foi inventado por Gordon G. Gallup, e recebeu o nome de Teste do Espelho. Gallup buscava compreender se animais ou bebês humanos poderiam ter consciência ou autoconceito. O teste consistia em marcar a pele do indivíduo enquanto ele estava dormindo ou sedado, em uma região onde não seria possível ser visto diretamente; em seguida, se permitia que ele visse o reflexo em um espelho e seu comportamento era observado. Quando havia reconhecimento da imagem no espelho, os animais (ou bebê humano) tentavam limpar a marca feita pelos cientistas 18. Esse teste foi aplicado por diversos cientistas em diferentes espécies, comprovando o autoconceito em mamíferos, cetáceos e aves, quebrando o paradigma de que apenas os mamíferos teriam essa capacidade 19,20,21,22.
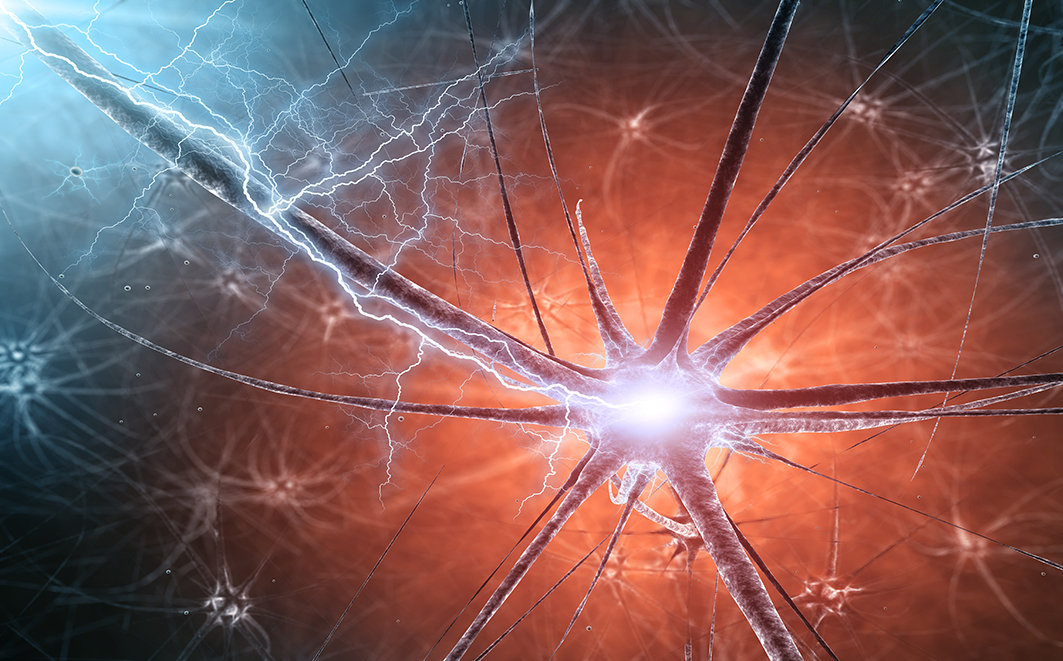
A neurociência
A neurociência é um ramo da ciência que estuda a anatomia, a fisiologia, a bioquímica, a biologia molecular dos nervos e do tecido nervoso e, especialmente, sua relação com o comportamento e a aprendizagem. O estudo do encéfalo é considerado tão antigo quanto a ciência. Podemos citar Hipócrates, que já no século V a.C. atribuía ao órgão a capacidade de se ter alegria, prazer, ressentimento e medos. Nesse sentido, afirmava que o encéfalo exercia um poder sobre o homem. Porém, a palavra neurociência só veio surgir em 1970 23.
O desenvolvimento crescente da tecnologia aumentou consideravelmente a capacidade de manipulação dos neurônios. Utilizando métodos de biologia molecular e equipamentos sofisticados de diagnóstico por imagem associados ao desenvolvimento simultâneo de ensaios comportamentais, a compreensão racional da consciência foi ampliada 24.
Parte dos pesquisadores argumenta que o estado de consciência surge no neocórtex. O neocórtex é a denominação de uma região mais desenvolvida do córtex cerebral, muito desenvolvida em primatas e destacando-se no Homo sapiens sapiens. Sua configuração espessa e rugosa garante uma grande superfície com maior quantidade de neurônios; essa especialização física fez com que pesquisadores acreditassem na maior capacidade cognitiva – e, consequentemente, de consciência – dos animais 25.
O neurocientista Joseph LeDoux defende que as únicas diferenças do estado emocional e não emocional da consciência são os mecanismos neurais que contribuem para o evento 26,27. Recentemente essa visão tem sido contestada, e muitos pesquisadores agora acreditam que a consciência animal pode surgir a partir de redes cerebrais subcorticais homólogas 28.
Declaração de Cambridge Sobre a Consciência animal
Em julho de 2012 aconteceu a Conferência Memorial Francis Crick Sobre a Consciência em animais humanos e não humanos na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Diversos peritos neurocientistas, entre eles neurofisiologistas, comportamentalistas, neurocientistas computacionais, neurocientistas cognitivos, neuroanatomistas e neurofarmacologistas, se reuniram para apresentar e discutir os resultados de décadas de pesquisas no campo da consciência.
Durante a conferência foi redigida a Declaração de Cambridge sobre a Consciência, um documento que resume as descobertas mais recentes a respeito do tema. Na declaração, os neurocientistas afirmam que a ausência de um neocórtex não parece impedir um organismo de experimentar estados afetivos.
Evidências apresentadas indicam que os animais possuem substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados conscientes, que resultam na capacidade de exibir comportamentos intencionais. Ou seja, as evidências indicam que os humanos não são os únicos que possuem substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo mamíferos, aves e até mesmo moluscos, também possuem tais substratos neurológicos, confirmando assim a senciência dos animais 28.
Conclusão
Durante toda a história vimos a humanidade procurando esclarecer suas dúvidas existenciais. Por muito tempo apenas teorias explicavam o que poderia estar acontecendo. Hoje, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, surgiram embasamentos técnico-científicos para novas discussões.
A Declaração de Cambridge sobre a Consciência não só promoveu e tornou público os avanços dos estudos sobre a consciência, mas elevou a ciência e a humanidade a um novo patamar de discussão. Fomentada por estudos embasados em metodologias que utilizam tecnologia de ponta, hoje podemos afirmar a proximidade entre os eventos que geram consciência e sentimento em animais humanos e não humanos.
Embora a ciência ainda não tenha chegado a compreender inteiramente o mecanismo preciso por meio do qual ocorre a formação da consciência e dos sentimentos, existem evidências suficientes para atestarmos que o ser humano não é o único ser senciente.
Referências
01-MOLENTO, C. F. M. Senciência animal. Universidade Federal do Paraná, 2005. 2 p. Disponível em: <http://www.labea.ufpr.br/PUBLICACOES/Arquivos/Pginas%20Iniciais%202%20Senciencia.pdf>. Acesso em: 10 Abril 2016.
02-VAN INWAGEN, P. ; SULLIVAN, M. Metaphysics. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014. Disponivel em: <http://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/metaphysics/>. Acesso em 5 de abril de 2016.
03-GRANGER, H. Aristotle’s idea of the soul. Boston: Springer, 1996. 188 p. ISBN: 978-0792340331.
04-GOMES, C. A. Introdução. In: ARISTÓTELES. Da alma (de anima). Lisboa: Edições 70, 2001. ISBN: 978-9724410678.
05-ROCHA, E. M. Animais, homens e sensações segundo Descartes. Kriterion: Revista de Filosofia, v. 45, n. 110, p. 350-364, 2004. doi: 10.1590/S0100-512X2004000200008.
06-ALLEN, C. ; TRESTMAN, M. Animal consciousness, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/consciousnessanimal> Acesso em: 20 de março de 2016.
07-KINOUCHI, R. R. Darwinismo em James: a função da consciência na evolução. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 22, n. 3, p. 355-362, 2006. doi: 10.1590/S0102-37722006000300013.
08-HUXLEY, T. H. On the hypothesis that animals are automata, and its history. The Fortnightly Review, v. 16, p. 555-580, 1874.
09-WATSON, J. B. Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, v. 20, n. 2, p. 158-177, 1913.
10-GRIFFIN, D. R. Prospects for a cognitive ethology. Behavioral and Brain Sciences, v. 1, n. 4, p. 527-538, 1978. doi: 10.1017/S0140525X00076524.
11-GRIFFIN, D. R. ; SPECK, G. B. New evidence of animal consciousness. Animal Cognition, v. 7, p. 5-18, 2004. doi: 10.1007/s10071-003-0203-x.
12-BURGHARDT, G. M. Animal awareness. Current perceptions and historical perspective. The American Psychologist, v. 40, n. 8, p. 905-919,1985. doi: 10.1037/0003-066X.40.8.905.
13-DAMASIO, A. The feeling of what happens: body and emotion in the making of consciousness. 1. ed. Orlando: Harcourt Brace, 1999. 386 p. ISBN: 978-0156010757.
14-DAMASIO, A. Feelings of emotion and the self. In: LeDOUX, J. ; DEBIEC, J. ; MOSS, H. The self: from soul to brain. New York: New York Academy of Sciences, 2003. p. 253-261. ISBN: 978-1573314510.
15-CHALMERS, D. J. Facing up to the problem of consciousness. Journal of Consciousness Studies, v. 2, n. 3, p. 200-219, 1995.
16-CHALMERS, D. J. The conscious mind: in search of a fundamental theory. 1. ed. New York: Oxford University Press, 1996. 432 p. ISBN: 978-0195117899.
17-LINDEN, E. The parrot’s lament and other true tales of animal intrigue, intelligence, and ingenuity. New York: Plume, 2000. 224 p. ISBN: 978-0452280687.
18-GALLUP Jr., G. G. Chimpanzees: self-recognition. Science, v. 167, n. 3914, p. 86-87, 1970.
19-PATTERSON, F. G. P. ; COHN, R. H. Self-recognition and self-awareness in lowland gorillas. In: PARKER, S. T. ; MITCHELL, R. W. ; BOCCIA, M. L. Self-awareness in animals and humans: developmental perspectives. New York: Cambridge University Press, 1994. p. 273-290. ISBN: 9780521441087.
20-MARTEN, K. ; PSARAKOS, S. Evidence of self-awareness in the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus). In: PARKER, S. T. ; MITCHELL, R. W. ; BOCCIA, M. L. Self-awareness in animals and humans: developmental perspectives. New York: Cambridge University Press, 1994. p. 361-379. ISBN: 9780521441087.
21-DELFOUR, F. ; MARTEN, K. Mirror image processing in three marine mammal species: killer whales (Orcinus orca), false killer whales (Pseudorca crassidens) and California sea lions (Zalophus californianus). Behavioural Processes, v. 53, n. 3, p. 181-190, 2001. doi: 10.1016/s0376-6357(01)00134-6.
22-PRIOR, H. ; SCHWARZ, A. ; GÜNTÜRKÜN, O. Mirror-induced behavior in the Magpie (Pica pica): evidence of self-recognition. PLoS Biology, v. 6, n. 8, p. e202, 2008. doi: 10.1371/journal.pbio.0060202.
23-BEAR, M. F. ; CONNORS, B. W. ; PARADISO, M. A. Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 3. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2008. 857 p. ISBN: 9788536313337.
24-PECHURA, C. M. ; MARTIN, J. B. Mapping the brain and its functions: integrating enabling technologies into neuroscience research. Institute of Medicine Committee on a National Neural Circuitry Database. Washington: National Academy Press, 1991.
25-SCHMIDEK, W. R. ; CANTOS, G. A. Evolução do sistema nervoso, especialização hemisférica e plasticidade cerebral: um caminho ainda a ser percorrido. Pensamento Biocêntrico, n. 10, p. 181-204, 2008. ISSN: 1807-8028.
26-LEDOUX, J. E. Feelings: what are they & how does the brain make them? Daedalus, v. 144, n. 1, p. 96-111. 2015. doi: 10.1162/DAED_a_00319.
27-LEDOUX, J. E. Anxious: using the brain to understand and treat fear and anxiety. 1. ed. New York: Viking, 2015. 480 p. ISBN: 978-1101619940.
28-LOW, P. The Cambridge declaration on consciousness. 2012. Disponível em: <http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf>.



